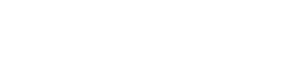Inclusão duma jovem com síndrome do x frágil no 2º ciclo do ensino regular português
Caetano, Carina
2014
Search results
You search for práticas and 2,479 records were found.
A primeira parte deste relatório final de Mestrado em Ensino de Música consta de
um relato do estágio no âmbito das disciplinas de Formação Musical e de Música de
Conjunto, enquadradas na unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada.
Essa atividade letiva decorreu no ano letivo de 2018/2019, na Academia de Amadores
de Música de Lisboa, estando amplamente descrita no presente trabalho. Assim,
começa-se por contextualizar o estudo, introduzindo a escola e as turmas envolvidas,
passando-se depois à descrição das práticas educativas, complementando-se esta
exposição com uma breve análise crítica dos acontecimentos.
A segunda parte do documento apresenta um estudo de caso realizado no âmbito
da unidade curricular Projeto de Ensino Artístico. Neste, partiu-se da escrita de uma
composição didática, com vista à sua preparação e apresentação em concerto, por parte
dos alunos da Academia Musical dos Amigos das Crianças, no ano letivo de 2019/2020.
Depois de se fundamentar teoricamente a importância deste empreendimento, faz-se
uma breve descrição da escola e da comunidade educativa participante, abordando-se
depois os aspetos concretos da escrita musical didática, no rescaldo dos ensaios e do
concerto. Finalmente, são analisadas as respostas a dois questionários – um feito a
professores e outro a alunos – observando-se os resultados e tentando perceber-se se
a peça foi um elemento importante para a motivação dos envolvidos.
O debate sobre sustentabilidade local ganhou um lugar de destaque e uma importância cada vez maior, quer a nível mundial, europeu e nacional, desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, e a primeira Conferência Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis, em 1994. Atualmente, o desenvolvimento rural no âmbito da política da União Europeia é um tema muito relevante. É assim importante a aplicação de políticas, programas, estratégicas e práticas públicas que coloquem em prática o desenvolvimento sustentável a nível local. De igual forma torna-se essencial a avaliação sobre se a sustentabilidade, aos seus diversos níveis, está de facto a ser colocada em prática no município. Essa mensuração é normalmente efetuada através de sistemas de indicadores de desenvolvimento sustentável, pois estes são uma ferramenta útil para os municípios pela sua simplicidade, facilidade no uso e capacidade de transmissão da informação, e ainda de ferramenta de apoio à decisão dos governos locais Estes indicadores devem também permitir a comparação entre municípios, permitir a visão holística e de transição para a sustentabilidade de uma região e serem baseados em processos participativos. Este trabalho tem como objetivo rever e avaliar os diversos sistemas de indicadores de sustentabilidade local de municípios rurais utilizados em termos da sua qualidade e eficiência face aos critérios usualmente definidos para o desenvolvimento e seleção de indicadores. Esta revisão baseou-se em pesquisas na biblioteca digital da b-on de publicações recentes. Resultados preliminares permitem verificar que ao longo das últimas décadas, muitos sistemas de indicadores foram desenvolvidos por instituições internacionais ou nacionais, maioritariamente para grandes centros urbanos e grandes regiões. Os sistemas de indicadores de sustentabilidade, quer na conceção quer na monitorização, baseados na participação pública reforçam a cidadania, bem como o compromisso a sociedade face à sustentabilidade. O recurso ao uso de sistemas de indicadores por municípios rurais ou por comunidades intermunicipais ainda é escasso, muitas vezes condicionados por questões de financiamento ou por falta de pessoal especializado. É também raramente avaliada a eficiência do próprio sistema de indicadores e se estes realmente monitorizam se o município está num bom progresso face à transição e governança para a sustentabilidade.
Dissertação apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra para obtenção do Grau de Mestre em Ciências Empresariais - Especialização em Estratégia Empresarial.
Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.
O presente relatório reflete a prática de ensino desenvolvida no estágio realizado no âmbito da unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada, bem como o trabalho de investigação desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto do Ensino Artístico. Este documento é constituído por dois capítulos que correspondem a duas partes distintas.
A primeira parte aborda a Prática de Ensino Supervisionada, onde são apresentados os elementos constituintes do estágio ocorrido no Conservatório Regional de Artes do Montijo, nomeadamente, caracterização do conservatório e do meio envolvente, caracterização dos alunos acompanhados, as planificações e relatórios de aula, bem como uma reflexão crítica do trabalho desenvolvido ao longo do estágio.
Na segunda parte é exposto o trabalho de investigação que tem como temática Uma abordagem para o Ensino de Iniciação de Tuba: O Método Suzuki. No âmbito da prática da docência de tuba tem-se vindo a assistir ao aumento da reflexão sobre as práticas pedagógicas, dos métodos musicais e repertório existente. Assim sendo, após pesquisa de diferentes metodologias e conhecendo o sucesso que o Método Suzuki tem no ensino de violino bem como das suas adaptações a outros instrumentos, decidiu-se optar por utilizar esta metodologia pretendendo realizar um estudo de forma a aferir se a aplicação deste método no ensino da iniciação de tuba permitirá que os alunos cheguem ao Primeiro Grau melhor preparados do que seguindo uma metodologia mais tradicional. Para tal desenvolveu-se um estudo baseado nos princípios basilares do Método Suzuki incluindo a criação de um método para a tuba e eufónio constituído por músicas clássicas associados a gravações de acompanhamento.
Este relatório final de mestrado tem como objetivo descrever a minha experiência na pática de ensino supervisionada, numa área de ensino Articulado da Música. Mas para além disso, apresentar o meu estudo de investigação.
A primeira parte deste relatório, estará focado na prática do ensino supervisionado, iremos dar uma apresentação contextualizada do meio onde se inserem as escola, uma vez que a turma de Formação Musical, apesar de ser do Ensino Articulado é lhe ministradas aulas no Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, no que diz respeito à Formação Musical, e a turma de classe de conjunto (Grupo Coral) tem aulas no Conservatório Regional de Castelo Branco. Para além disso será feita também, uma caraterização social dos alunos, com os quais trabalhámos para desenvolver o estudo de caso.
Ainda na primeira parte deste relatório, irá ser feita uma pequena referenciação da orientação e valores pedagógicos quer ao nível dos projetos educativos de cada escola, Conservatório Regional de Castelo Branco, bem como do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, onde fazem referência sobre a importância da utilização, experimentação e vivência musical em contexto escolar. Serão também apresentadas algumas práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano nas aulas de Formação Musical, onde a metodologia aplicada, privilegia maioritariamente a utilização da Música Pop/Rock na aquisição de conhecimentos. Para além das práticas pedagógicas ministradas na disciplina de Formação Musical, serão apresentadas algumas práticas desenvolvidas na classe de conjunto, isto é, na classe de coro. Na segunda parte será feita uma fundamentação teórica, ao nível pedagógico/musical, que de alguma forma justifique o desenvolvimento deste estudo de caso.
Logo de seguida, numa terceira parte, apresentamos o estudo, sob forma de investigação, com a metodologia utilizada, onde iremos apresentar as opiniões dos alunos, quanto à maneira como foram adquiridos os conhecimentos utilizados no estudo de caso ao longo das aulas.
Tentamos de algum modo demonstrar a importância na utilização de uma certa e determinada metodologia, como é a exploração da música Pop/Rock nas diferentes aprendizagens. Pretendo demonstrar, segundo a metodologia desenvolvida e a opinião dos alunos, a importância da utilização de temas musicais na disciplina de Formação Musical, temas esses mais ao gosto dos alunos.
Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27461TFCNHQA.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27452TFCNHQA.
Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Supervisão e Avaliação Escolar.
O leite de pequenos ruminantes pode conter vários microrganismos, incluindo microrganismos patogénicos, os quais são uma preocupação ao nível da saúde dos animais, dos tratadores/ordenhadores e dos consumidores de produtos laborados a partir de leite proveniente dessas explorações. O cumprimento das Boas Práticas de Higiene e das Boas Práticas de Produção são essenciais para reduzir o risco microbiológico nestas situações.
Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento sobre alguns dos principais microrganismos patogénicos e indicadores de higiene associados ao leite produzido em explorações de pequenos ruminantes. Como objetivo mais específico, este trabalho pretende caracterizar um conjunto de isolados de Staphylococcus coagulase positiva provenientes do meio rural.
Partindo de 43 isolados de Staphylococcus spp. de amostras de fossas nasais de tratadores/ordenhadores, leite cru de ovelha e cabra e bucal de tanque de leite de explorações de pequenos ruminantes do distrito de Castelo Branco, foi feita uma caracterização prévia dos mesmos (hemólise, manitol, DNAse e coagulase), a que se seguiu a avaliação da suscetibilidade a 12 diferentes antibióticos (ampicilina, amoxicilina mais ácido clavulânico, ceftazidima, ciprofloxacina, enrofloxacina, imipenem, meticilina, oxitetraciclina, penicilina G, sulfametoxazol/trimetoprim, estreptomicina e oxacilina).
Os resultados obtidos permitem-nos concluir que todas as culturas testadas eram coagulase, manitol e DNase positiva e que 66,6% (20/30) dos isolados de fossas nasais provenientes dos tratadores/ordenhadores apresentavam um halo de β-hemólise largo. Quanto à suscetibilidade aos antibióticos, o Sulfametoxazol/Trimetoprim 25 μg foi o que mostrou maior eficácia, uma vez que 93,0% das culturas testadas foram sensíveis.
A utilização da técnica do focus group (FG) tem vindo a alargar o seu campo de aplicação a diferentes áreas do conhecimento, como é o caso da prevenção de riscos naturais. Consiste numa técnica de recolha de dados através da interação de um grupo baseada num tópico apresentado por um moderador. este método comporta três componentes essenciais: permite a recolha de dados; localiza a interação na discussão do grupo como a fonte dos dados; e, reconhece o papel ativo do investigador na dinamização da discussão do grupo para efeitos de recolha dos dados. pretende-se, no âmbito deste artigo, apresentar a aplicação desta técnica de pesquisa qualitativa de produção de informação, no projeto Climrisk - “medidas de adaptação às alterações climáticas na gestão dos riscos naturais e ambientais”, com a comunidade local. a metodologia utilizada consistiu em discutir temas de riscos naturais com grupos heterogéneos de até 10 pessoas, representativos da comunidade, onde existe um moderador que apresenta as questões, estimula o debate e modera a diversidade de opiniões. participam, ainda, um a dois observadores e um facilitador. as iterações grupais foram sempre registadas por meio de gravação e registo escrito. no final de cada reunião foi sempre pedido que discutissem os assuntos abordados com os amigos, familiares e que reunissem e partilhassem os contributos que considerassem pertinentes. Foram criados três grupos (Leiria, Ferreira do Zêzere e Ourém), para os quais foram realizadas três atividades com o intuito de recolher informação sobre a perceção dos participantes relativamente a aspetos referentes à prevenção dos riscos naturais. Foram preparadas três reuniões por grupo, distribuídas ao logo do tempo de
duração do projeto. (1) a primeira reunião teve por objetivo a apresentação do projeto Climrisk, explicação do funcionamento do FG e a realização de um conjunto de tarefas a fim de se identificarem na sua região os riscos naturais de maior relevância, se tem existido formação/divulgação sobre os riscos e como gostariam de receber essa informação. desta reunião saiu a necessidade de fazer um glossário sobre o que se entende por riscos naturais. (2) na segunda reunião apresentaram-se os resultados do inquérito e o glossário. de seguida foram realizadas atividades com dados climáticos, definindo-se o que são modelos de clima e cenários climáticos. o grupo foi dividido por equipas, uma por cada risco identificado como mais relevante na sua região, e foi pedido que fizessem uma análise sobre o impacto da tendência temporal e espacial do clima no risco em causa. pretendeu-se com esta atividade avaliar da utilidade deste tipo de informação para o grupo e para a comunidade. para fazer a ligação com a reunião seguinte foi lançada a seguinte questão: o que são medidas de adaptação? Foi pedido aos participantes que pensassem em sugestões de medidas de adaptação e de como gostariam de as ver divulgadas, ou seja qual a tipologia de manual de boas práticas mais adequadas. (3) na terceira reunião de FG foram apresentados os resultados mais relevantes do projeto Climrisk, e realizadas atividades no âmbito das medidas de adaptação às alterações climáticas como contributo para um manual de boas práticas. as respostas coligidas nas reuniões Fg foram categorizadas com recurso ao programa informático de análise de dados qualitativos webQda, permitindo identificar as principais preocupações e o nível de envolvimento dos
participantes, levando a uma melhor compreensão dos riscos naturais e das medidas de adaptação.
Relatório do trabalho de fim de curso de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27432TFCER.
Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Produção Agrícola apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Dissertação de Mestrado em Design de Vestuário e Têxtil apresentada à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco e à Faculdade Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Design de Vestuário e Têxtil.
Relatório de estágio apresentado ao Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco em associação com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Design Gráfico.
Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco do Instituto Politécnico de Castelo Branco e à Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Design Gráfico.
O presente artigo tem como objetivo caracterizar o
processo de tomada de decisão de não reanimar
nas Equipas de Emergência Médica Intrahospitalares,
elegendo como ponto nuclear de
pesquisa o papel do enfermeiro, do doente e/ou
família neste processo, bem como as diretivas
antecipadas de vontade, que benefícios/
implicações na tomada de decisão.
Para a realização deste estudo de investigação
recorreu-se à revisão sistemática da literatura, com
o horizonte temporal de janeiro de 2005 a
novembro de 2015. Para a seleção dos artigos foram
definidos critérios de inclusão e exclusão bem
como, descritores de pesquisa, utilizando o método
PICOD. Pesquisando a partir de bases de dados de
texto integral e de referência, foram incluídos 9
artigos dos quais 2 de natureza qualitativa e 7 de
natureza quantitativa.
Com este trabalho ficou explicita a necessidade de
definir normas de orientação, para que os
profissionais de saúde tenham clara noção do
referencial de atuação ética e legal em doentes
terminais, implementando boas práticas no que se
refere à suspensão ou abstenção de tratamentos
desproporcionados. As decisões antecipadas de
vontade (a seu comunicação deve ser semelhante
ao consentimento informado) e o envolvimento dos
enfermeiros nessas decisões devem ser incluídos.
Só desta forma a Decisão de Não Reanimar (DNR) é
considerada uma prática digna, enquadrada na
visão da ortotanásia.
O presente estudo tem como finalidade analisar se as Educadoras de Infância do ensino regular, flexibilizam/adaptam nos seus Projetos Curriculares de Grupo (PCG) os conteúdos, os objetivos, as estratégias ou metodologias e os recursos, tendo em conta as Necessidades Educativas Especiais (NEE). Procede-se ao levantamento de situações atuais, nomeadamente no que se refere à prática de quatro Educadoras de Infância que exercem funções educativas com grupos de crianças que têm incluídas crianças com NEE, duas num jardim-de-infância da rede pública e duas na rede privada.
Os instrumentos/técnicas de recolha de dados incidiram na análise documental dos PCG na entrevista semiestruturada às Educadoras de Infância e os dados foram tratados de acordo com a análise de conteúdo tendo em conta a definição das categorias, das unidades de significado, unidades de registo e de contextos.
Concluímos que da análise aos PCG os conteúdos, as estratégias/metodologias e os objetivos são selecionados para o grupo sem mencionar especificamente as crianças com NEE. No que respeita aos recursos humanos, constata-se a falta destes, tanto na análise aos PCG como às entrevistas, daí a dificuldade de gestão e organização do trabalho educativo por parte das Educadoras nas suas práticas educativas em grupos inclusivos.
A exposição – “The Responsive Eye” - de 1965, no Museu de
Arte Moderna de Nova Iorque, trouxe a projeção e o reconhecimento à
Op Art e também a Bridget Riley. A estética de Bridget Riley, faz parte de
um conjunto de práticas experimentais desenvolvidas durante o período
pós-guerra, a partir das quais, alguns conceitos não representacionais são
explorados e desenvolvidos. A sua arte foca-se em transportar até aos
sentidos do observador, as forças imateriais de uma natureza subtil,
recém-concebida; uma natureza comandada pela interação da luz, do
calor e da energia; uma natureza Einsteiniana da dualidade de ondapar
ticula; uma natureza de forças invisíveis. Essa natureza, é revelada nos
seus trabalhos, através de relações plásticas puras, agrupadas através de
uma abordagem fenomenológica, que isola e amplia as formas e as
relações essenciais. A sua prática representacional, passou por três
estágios evolutivos, que se inter-relacionam: (1) compreensão da
natureza da perceção humana, (2) representação da experiência visual e
preceptiva da natureza, culminado com (3) a maneira pela qual o seu
trabalho reflete a compreensão da natureza.
O design participativo tem alargado consideravelmente o olhar da disciplina de design com grande impacto em seus processos, impulsionando o diálogo acadêmico e engajando instituições assim como diversas formas de público para dar forma junto à esfera pública. Os pro-cessos participativos podem desempenhar um papel importante na reformulação de questões e reconfiguração de comportamentos na esfera da vida comum, expandindo o imaginário social para impulsionar a consciência da cidadania. Neste artigo, os autores investigam o papel po-tencial nas narrativas para atividades baseadas em design participativo como uma chave para interpretar a herança cultural e o ecossistema social de uma comunidade urbana, para apoiar o desenvolvimento de uma capacidade difusa de conceber um melhor presente e futuro com e para os cidadãos, alavancando a capacidade prática do design de prever possibilidades de mudança. Esse potencial das narrativas para as práticas de design participativo é investiga do aqui por meio de um projeto de pesquisa transdisciplinar situado na cidade de Ivrea (Itália). O projeto serviu como contextualização de novas ideias e desenvolvimento de técnicas, perseguindo a hibridização dos processos de design participativo pelo uso da narração de histórias e do design especulativo, desenvolvendo ferramentas emprestadas da ficção científica, design espacial e narratologia.
Em termos de práticas de ensino, a prática pedagógica supervisionada, é efetivamente uma sólida estratégia de formação, onde a competência dos formadores supervisores e o tipo de relações supervisivas que se estabelecem neste processo são determinantes. Os autores abordados consideram que o processo de Supervisão pode ser considerado como um processo de resolução de problemas, em que o observador e o observado desenvolvem formas de resolução de tarefas através de estratégias técnico-didáticas adequadas num contexto afetivo-relacional adequado envolvido numa atmosfera favorável. São vários os fatores que determinam e influenciam diretamente o ensino da natação: A relação professor-aluno em natação depende da sua capacidade ou habilidade em comunicar com os seus alunos; Criar um ambiente seguro, com um domínio exímio dos conteúdos técnicos, uma estratégia de ensino adequada a cada situação de aprendizagem são a chave para o tipo de trabalho que se pretende em natação.
A modalidade específica da natação requer procedimentos e intervenções específicas que se prendem essencialmente com a transição para o meio aquático, ou seja, dotando os professores de capacidades interventivas na modalidade, cujos padrões técnicos e metodologias de ensino se tornam necessárias para dominar e promover um ensino de sucesso.
Só estão disponíveis o resumo e os metadados.
Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Supervisão e Avaliação Escolar.
Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Rural e Ambiente apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, do qual só está disponível o resumo.
Os Jogos de Tabuleiro são relíquias que acompanham o Homem desde as civilizações mais antigas. São produtos de recreação, educacionais e simulações de práticas socias. No decorrer dos tempos, nomeadamente na evolução da tecnológica, os Jogos de Tabuleiro tornaram-se visualmente mais complexos. Utilizando diferentes mecanismos gráficos e de interação para comunicar com o jogador.
A existência de vários exemplares gráficos e visuais no objeto de estudo torna-se possível a integração como tema de projeto de trabalho na área do Design de Comunicação e Produção Audiovisual, na medida que a sua função é essencial, para que a aceitação do jogo possa ser entendida e utilizada corretamente pelos utilizadores.
Deste modo, o tabuleiro de um jogo é um suporte gráfico, no qual o utilizador interage e obtém quantidades de informações digitalmente, sendo esta constituída por várias camadas de informação.
O presente trabalho encontra-se divido em três fases: a fase inicial que consiste na pesquisa de referências e objetos de estudo que visibilizam o entendimento e a compreensão da área que este projeto se insere.
A segunda fase procura compreender e demonstrar visualmente os elementos gráficos presentes por todo o jogo.
A terceira e última fase reflete e simplifica mais uma vez o objeto de estudo, demonstrando produtos onde é possível visualizar na integra os seus atributos.
O objetivo é analisar e identificar os sistemas de comunicação visual que os Jogos de Tabuleiro Interativos Digitais têm. Nesta perspetiva, pretende-se que este projeto não só proporcione uma ampla compreensão dos Jogos de Tabuleiro como objetos de design, mas também que demonstre o processo de criação e evolução de produtos gráficos.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-28894TFCA.
Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Biológica e Alimentar, do qual só está disponível o resumo.
Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-28957TFCEBA.
Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, do qual só está disponível o resumo.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18990TFCPAN.
Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Animal.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-28826TFCEBA.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-10557TFCPAN ; C30-10562TFCPAN.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-29510TFCEV.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27249TFCNHQA.
Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Produção Agrícola.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25723TFCERNA.
Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-21807TFCER.
Relatório de Estágio do curso de Produção Agrícola, apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Relatório do trabalho de fim de curso de Enfermagem Veterinária apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
O cuidar inscreve-se na história de todos seres vivos, desde o início da história e da
Humanidade como forma de garantir a continuidade do grupo e da espécie, inserido
num sistema de economia mista. Às mulheres competiam os cuidados que se
realizam à volta de tudo o que crescia e se desenvolvia. Mas esta função essencial e
inerente à sobrevivência dos seres humanos que é o cuidar tem sido alterada ao longo
dos tempos, ao sabor das mudanças sociais, económicas e tecnológicas. Perdeu a sua
inserção no sistema de trocas e ancorou definitivamente nas mulheres alicerçada na
experiência vivida e interiorizada no próprio corpo. A herança de todo este passado
cultural fragmentado pela perda de reconhecimento do valor da paridade na divisão
sexual do trabalho, entre outros, tornam-se os responsáveis pela desvalorização das
práticas de cuidados asseguradas pelas mulheres que embora mantenham o valor de
uso não apresentam um valor de trabalho.
Equacionar o problema do cuidar, sobretudo do cuidar informal, é considerar o
número crescente de pessoas com dependência física quer seja pela idade quer seja
por outra causa, que são cuidadas pelas mulheres normalmente na família, o espaço
privado, sem que esse trabalho seja reconhecido e que constitui um sistema paralelo
de saúde.
Com este estudo pretendeu-se identificar as transformações e modos de apoio do
cuidar informal, analisar a existência ou não de gratificações no cuidar, identificar as
motivações de quem cuida, e valorizar o cuidar informal dando-lhe visibilidade.
Para a consecução destes objectivos escolheu-se uma metodologia qualitativa, as
histórias de vida cruzadas. Esta pesquisa com características exploratórias e
descritivas incluiu as narrativas cruzadas de seis participantes que vivenciaram a
experiência de cuidar de um familiar com grande dependência física, durante um
longo período.
A criação de adequados contextos de supervisão pedagógica requerem encontros de supervisores-cooperantes e estagiários que assentam em trocas discursivas entre os participantes.
Nestes encontros, em que um dos objectivos é reflectir sobre a actuação na aula e fora dela, o discurso entre os vários interlocutores revela aspectos que são de realçar. No nosso estudo foi possível observar que são normalmente os formadores a iniciar os tópicos, a formular a maior parte das questões e a decidir quem deve tomar a palavra. Os estagiários /formandos remetem-se ao papel de respondentes, deixando-se conduzir pelas preferências discursivas dos seus formadores/interlocutores.
Contudo, quando confrontados com a realidade que emana dos dados recolhidos, o discurso do poder ligado à função que desempenham, os supervisores cooperantes reconhecem a necessidade de alterar os seus padrões discursivos, tendo em vista uma distribuição mais equilibrada da palavra, para que aos estagiários seja dada possibilidade e tempo de colocarem questões sobre os conteúdos de reflexão.
É nosso objectivo, nesta comunicação, partilhar uma experiência realizada com supervisores cooperantes e respectivos estagiários, ao longo de três anos lectivos, com recurso à investigação-acção como estratégia de formação na área do questionamento. Deste modo, actuou-se sobre as práticas de supervisão, potenciando uma lógica de reflexão crítica desejável sobre o que é dito, como é dito e para que é dito.
Apresentam-se alguns resultados que apontam para a pertinência da formação dos supervisores através da reflexão sobre os discursos, concretamente sobre as perguntas formuladas, de modo a permitir o desenvolvimento pessoal e profissional de formadores e formandos.
Vivemos em tempo de modelos sociais complexos e marcados pela diversidade. As incertezas são próprias da sociedade que questiona valores de toda a ordem e a reacção passa por aceitar os desafios respondendo de forma reflectida e planeada. É preocupante o desnível acentuado entre os discursos de circunstância nomeadamente nos textos de Lei, e as realidades da educação a que os cidadãos têm acesso nas escolas. Contudo, a diferença pode acentuar-se ainda mais se a autonomia, responsável e monitorizada, das escolas não se tornar efectiva conduzindo a uma identificação e resolução das próprias necessidades formativas. A (re)organização da escola é, portanto, fulcral no processo de mudança (Cachapuz et al., 2002) e requer prioritariamente, em tempos de elevada dependência e avanços dos meios tecnológicos, planeamento da formação de recursos humanos.
É desse modo que o conceito de Supervisão ampliou o seu domínio para aspectos identitários da orientação da formação de profissionais e de formadores de profissionais, para a sociedade contemporânea. Significa compreender a complexidade e extensão dos fenómenos profissionalizantes para a qualidade do desempenho, tendo em conta estruturas teóricas, materiais e humanas. Tem-se ainda presente que a Supervisão do tempo actual se dirige para indivíduos mas que tem vindo a deslocar o seu centro das práticas pedagógicas encerradas na sala de aula para a instituição escola (Alarcão 2001, Formosinho 2002) e portanto, orienta-se por projectos e para sistemas.
O que se apresenta na comunicação é a discussão do quadro conceptual no qual se move a supervisão escolar actual e linhas de construção de Projectos de Supervisão. Apresenta-se, como exemplo, um Projecto concreto de formação de recursos humanos, relevando o papel indispensável do supervisor no planeamento, acompanhamento e avaliação da formação para uma nova escola mais educativa.
Actualmente falar e identidade cultural ou identidade nacional ou regional supõe arbitrar os sistemas de convivência no social e, simultaneamente, nas capacidades de assimilação e integração, Já não existem regiões, comunidades ou sociedades fechadas no contexto da internacionalização económica (globalização) e da cultura planetária dos novos ‘media?. Haverá que procurar novos sentidos a um velho conceito de ‘IDENTIDADE’, que deverá ser sinónimo de interacção, de intercâmbio, de abertura, de cooperação e de solidariedade. Por isso, a ‘identidade’ constrói-se mantendo as antigas fidelidades e abrindo ao exterior (lógica de proximidade comunitária) para promover o desenvolvimento, a inovação e as tecnologias em espaços comunitários definidos geograficamente.
Poderemos propor um enfoque prospectivo de intervenção que envolva todas as entidades e instituições comunitárias, de modo a perseguir os fins desejados, no contexto dos desafios e das mudanças prováveis.
Poderemos propor um enfoque prospectivo de intervenção que envolva todas as entidades e instituições comunitárias, de modo a perseguir os fins desejados, no contexto dos desafios e das mudanças prováveis.
Em suma, devemos reflectir sobre a escassa atenção dada pela comunidade científica e pedagógica à problemática das políticas de desenvolvimento local/regional e das práticas sociais, educativas e culturais ao nível dos municípios ou comunidade territorial que envolva vários municípios. Haverá que aprofundar o papel, as relações e as colaborações das instituições, entidades e agentes comunitários no desenvolvimento e inovação, no mercado de trabalho e das políticas socias e culturais ao nível local e regional, pois não têm sido objecto de investigações esses indicadores, de modo a dar rumo ao progresso e à identidade das comunidades territoriais locais e transfronteiriças.
Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos apresentada à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
O artigo apresentado expõe os resultados de uma investigação centrada numa jovem portadora de necessidades educativas especiais (NEE), que se encontra institucionalizada numa instituição portuguesa, com diagnóstico de síndrome de Rett (SR). Após a caracterização da jovem e respetivos contextos, partimos para uma intervenção assente numa dinâmica de planificação, ação, avaliação e reflexão, impulsionadora de práticas educativas diferenciadas e incitadoras do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), através da utilização do software Magickeyboard. Com esta intervenção pretendemos criar uma dinâmica de trabalho assente na inovação tecnológica, onde se potencie a comunicação como um elemento essencial na melhoria da qualidade de vida da jovem. Os resultados alcançados são indicadores de que a jovem, ao longo das sessões de trabalho, foi ampliando o seu nível comunicativo, pelo que o software Magickeyboard se revelou um meio ampliador e promotor da comunicação desta jovem na sua rotina diária.
Aumentam os desafios que se colocam à escola para formar uma sociedade mais informada e com maior capacidade para resolver problemas. A complementaridade entre os espaços formais, associados à escola, e os espaços não formais, pelo seu potencial de criatividade e motivação cria oportunidades diversificadas de aprendizagem.
Nestes pressupostos, o Jardim do Paço Episcopal de Castelo branco, ex-líbrís da cidade, com todo o seu peso cultural, revelou-se um espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades integradoras das várias áreas do currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), com particular destaque para o estudo do meio e da matemática.
Através de uma estratégia associada a experiencias criativas e inovadoras de aprendizagem, em que se evidencia o papel da inter-relação entre a escola e os espaços de educação não formal, desenvolveu-se um estudo envolvendo alunos de 4ª ano do 1º ano do 1º CEB, com o objectivo de avaliar o contributo de atividades práticas realizadas no Jardim do Paço e a sua repercussão nas aprendizagens de âmbito curricular.
Neste estudo apresenta-se uma das actividades desenvolvidas durante uma visita ao jardim baseada na previsão, na observação e na medição das sombras dos próprios alunos. Neste sentido, construímos recursos didáticos integrando situações que proporcionaram a compreensão do fenómeno da intersecção da luz com os objectos opacos – formação da sombra.
Apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos referentes às representações dos alunos sobre a relação do comprimento da sombra com a sua altura e à aplicação de conceitos e procedimentos matemáticos e reflecte-se sobre as suas dificuldades. Os resultados foram positivos e relevantes, no que se refere à promoção de aprendizagens matemáticas e ao desenvolvimento de atitudes positivas face à disciplina, por parte dos alunos. Salienta-se, contudo, a necessidade de aprofundar o tema, continuando a explorar, em sala de aula, as experiências e aprendizagens decorridas no jardim do Paço.
Dissertação apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em
Inovação e Qualidade na Produção Alimentar.
As áreas com risco de erosão hídrica do solo são as que, devido às combinações das características da topografia, do solo, do coberto vegetal, estão potencialmente sujeitas a uma taxa perda de solo, por acção conjunta da chuva e do escoamento superficial, que excede a taxa de formação do solo. A erosão hídrica e o escoamento superficial são processos complexos e dependem de uma multiplicidade de factores que variam no tempo e no espaço.
As áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo constituem uma tipologia que integra a da Reserva Ecológica Nacional (REN). O objectivo do estudo foi delimitar as áreas com risco de erosão hídrica do solo com vista à sua integração na REN do Município de Mêda.
A metodologia deste estudo baseia-se na aplicação do modelo da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) e na modelação espacial da erosão hídrica através de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). A EUPS tem em consideração os seguintes factores: topográfico, erodibilidade do solo, erosividade da precipitação, cobertura do solo e respectivas práticas culturais. Os processos de modelação geográfica foram desenvolvidos sobre os seguintes dados geográficos: altimetria e hidrografia da Carta Militar de Portugal (Instituto Geográfico do Exército), manchas de solos da Carta de Solos do Nordeste Transmontano (Universidade de Trás os Montes e Alto Douro), ocupação de solo (Instituto Geográfico Português) e estações meteorológicas (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos).
Os SIG permitiram a integração e sobreposição dos diferentes níveis de informação de forma a calcular através de álgebra de mapas o mapa de erosão hídrica do solo. Na REN foram integradas as zonas que apresentam um risco elevado de erosão. As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo ocupam 7934 ha e representam 28% da superfície do município.
O presente artigo insere-se no âmbito do «estado da arte» que está a ser realizada numa investigação de Doutoramento relacionada com os fatores socioculturais que influenciam a aprendizagem das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), nomeadamente o computador e a Internet cm populações com 50 ou mais anos de idade e os impactos no bem-estar ao longo do processo de envelhecimento. Neste sentido, torna-se importante que se promovam estratégias que contribuam para o envelhecimento ativo c para o bem-estar dos seniores no contexto de aprendizagem das TIC. O problema da infoexclusão tem constituído uma preocupação que envolve todos os cidadãos. Urge refletir e alertar para a necessidade de se desenvolverem medidas práticas para que os seniores passem a ter mais oportunidades educacionais que facilitem a sua infoinclusão de modo a adquirirem competências digitais que lhes permitem utilizar as TIC no sentido de poderem incrementar o seu bem-estar.
A necessidade de uma comunicação adequada é essencial no que concerne à transmissão e fruição de uma exposição. O Design possui as ferramentas teóricas e práticas necessárias ao cumprimento desse pressuposto. Com esta investigação, pretendemos destacar a necessidade de uma nova abordagem teórica e programática sobre o processo expositivo, ressaltando a importância dos aspectos tridimensionais e as soluções contextualizantes, que contribuam para o entendimento da exposição como veículo de comunicação.
Chamamos especial atenção para o potencial de interlocução do designer de interiores como projectista de ambientes expositivos, tendo em vista a maximização da percepção do visitante. Esta interlocução pode realizar-se através do processo expositivo, sob a forma de histórias organizadas e reduzidas a ícones de significado universal, que são aplicados num espaço real. Aponta-se para a necessidade do desenvolvimento de uma teorização acerca do Design Expositivo, como instância de fundamentação para a teoria comunicacional. Com esta investigação, propõe-se ainda a análise de uma estratégia de reconhecimento da mensagem das exposições, através dos espaços e dos objectos.
Projetando-se para além da ideia do corpo orgânico e expressivo e, cimentando uma estreita relação entre motricidade, cognição e linguagem, as atuais práticas de Psicomotricidade alcançam um novo campo concetual. Neste artigo, de natureza qualitativa, pretendeu-se traçar o perfil psicomotor de uma criança de 8 anos com Perturbação Específica da Linguagem (PEL) e Dislexia, através da aplicação da Bateria de Observação Psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca e correlacioná-lo com o perfil cognitivo e linguístico. Através da triangulação dos resultados obtidos nos testes psicomotores, cognitivos e linguísticos corroboraram-se os dados encontrados na literatura, que apontam claramente para a existência de co-morbilidade entre PEL, Dislexia e alterações no perfil psicomotor, demonstrando, assim, uma forte correlação entre psicomotricidade, cognição e linguagem. Por conseguinte, torna-se urgente e exequível sensibilizar a família, os técnicos de saúde e da educação para a necessidade de uma intervenção multidisciplinar, nas áreas da psicomotricidade e linguagem, quer a nível profilático quer reabilitativo.
A população mundial está a aumentar prevendo-se que ultrapasse os 9 mil milhões de pessoas em 2050. Por outro lado, espera-se um acréscimo de 70% na procura mundial por alimentos e fibras na primeira metade do século XXI (FAO, 2009). Apesar desse aumento da população ocorrer sobretudo nos países em desenvolvimento, a agricultura nos países desenvolvidos estará também sob uma grande pressão, não só devido à necessidade de produzir alimentos com uma elevada qualidade, mas também em quantidade suficiente e garantindo a sustentabilidade ambiental, social e económica. Neste contexto, a água é um recurso essencial, embora a sua previsível escassez obrigue a repensar os termos da sua utilização. Para justificar este facto basta considerar que os regadios correspondem apenas a 5% da superfície agrícola mundial e contribuem com 35% do total da produção (FAO, 2010).
Sendo a água um recurso simultaneamente essencial e escasso, a sua adequada gestão adquire uma especial pertinência, tanto mais que o regadio envolve diversos fatores, não só técnicos e ambientais, como também políticos, sociais e económicos, que interagem entre si, por vezes de forma bastante complexa (Malano e Burton, 2001).
A ação da rega, integrada no projeto +Pêssego, teve como principais objetivos:
(1) caracterizar as práticas de rega em dois pomares de pessegueiro localizados na Beira Interior, a sul da Serra da Gardunha;
(2) avaliar a adequação de dois métodos utilizados para a determinação do teor de água no solo (a sonda capacitiva – DIVINER 2000 – e o balanço de água no solo considerando as entradas e saídas);
(3) avaliar o efeito de diferentes dotações de rega na produção e qualidade dos frutos.
A agricultura de regadio tem uma importância indiscutível na estrutura da produção final agrária, já que permite fazer culturas com maior valor acrescentado que as tradicionais culturas de sequeiro. Actualmente os 271.4 milhões de hectares de regadio existentes a nível mundial, representam unicamente 5% da superfície agrícola e contribuem com 35% da produção agrária total (estatísticas da FAO). Aumentar a produtividade agrícola com a rega é um objectivo que produz importantes efeitos positivos, mas também comporta uma série de efeitos negativos que têm que ser considerados responsavelmente, para evitar a sobreexploração e degradação dos recursos naturais de que depende a agricultura de regadio. A compatibilidade ambiental desta actividade começa a ser questionada devido ao aparecimento de problemas tais como a erosão, a salinização e por consequência a degradação dos solos, e por outro lado a diminuição da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e a perda de diversidade biológica. O problema ambiental dos regadios é particularmente sério em áreas onde as práticas agrícolas intensivas se combinaram com estruturas de propriedade baseadas em grandes unidades de exploração, cuja gestão se faz de forma homogénea e sem a suficiente precisão. O excesso de fertilizantes e outros agroquímicos, pode interferir com os sistemas circundantes e ameaçar a própria sustentabilidade dos regadios. Os fluxos de retorno das zonas de regadio, quando acumulados ao longo de uma bacia hidrográfica, podem deteriorar a qualidade da água até ao ponto de as tornar inutilizáveis. Nos países em desenvolvimento, às elevadas perdas na rede e sistemas de rega, há que juntar os problemas de salinização, de saúde pública (pelos múltiplos usos que tem a água de rega), e a escassa participação dos usuários na gestão da água (Villalobos et al., 2002).
A paisagem actual da Bacia do Mediterrâneo não se assemelha minimamente à sua identidade primitiva. Durante o Mioceno, o clima da região era mais temperado e húmido, e a transição entre estações mais suave, favorecendo a vegetação Laurisilva. Após as glaciações, grande parte das espécies são forçadas a procurar refúgio ao abrigo das copas de formações arbóreas caducifólias (Antunes & Ribeiro, 2007), encontrando aí uma maior afinidade climática. Após esta evolução, os estados mais desenvolvidos das sucessões ecológicas da paisagem mediterrânica passam a ser dominados pelas espécies esclerófilas.
Até à Revolução Neolítica, a floresta então dominada por quercíneas permaneceu mais ou menos indiferente à acanhada alteração humana. Com a sedentarização das populações, inicia-se a progressão das práticas agrícolas e pecuárias e do irretornável processo de desflorestação. O crescendo populacional, decorrente da maior disponibilidade de alimento, e o constante esgotamento da fertilidade do solo, conduzem à procura de novos espaços que respondam às necessidades de cultivo, pastagens, e lenha (Récio, 1989).
Surge um sistema de exploração baseado na roça e no pousio, com uso recorrente do fogo, através do qual se faz regressar o bosque a uma etapa anterior da sucessão ecológica, o maquis, composto por formações arbustivas altas e fechadas. A continuidade da intervenção humana leva a um novo estádio de degradação, a garrigue, caracterizada por vegetação esparsa e baixa. São estas duas formações vegetais que dominam hoje a paisagem mediterrânica, completadas por espaços mais ou menos humanizados e resquícios de bosques primitivos, que apenas por obra do acaso lograram chegar às etapas clímax (Massoud, 1992).
Neste contexto de paisagem mediterrânica profundamente alterada pelas actividades humanas, onde os ecossistemas nativos estão já consideravelmente fragilizados, importa relacioná-la com os cenários de mudança global previstos. A intenção deste artigo é, pois, reflectir sobre estes temas, procurando ainda contribuir para a divulgação da temática das invasões biológicas e realçar a importância da biodiversidade na bacia do Mediterrâneo.
Face à importância que a cultura da pera ‘Rocha’ representa no setor agrícola
nacional e em particular na região do Oeste, este trabalho pretende dotar as
Organizações de Produtores com uma ferramenta de apoio à gestão, visando
contribuir para o incremento da eficiência das práticas culturais e promovendo o
aumento do seu rendimento. Por conseguinte, este trabalho inicia-se com uma
breve revisão da literatura que procura identificar os principais pontos críticos
para o sucesso de uma exploração de pomares de pera ‘Rocha’. Posteriormente,
será apresentado o Manual de Instruções – ilustrado para maior simplificação – da
aplicação desenvolvida e que pode ser descarregado na plataforma online do
GesRocha (www.gesrocha.pt). Este instrumento funciona tendo por base a folha de
cálculo e permite um conjunto de análises de sensibilidade para a instalação e para
a exploração do pomar (com referência ao hectare), baseado nas folhas de cultura
da pera ‘Rocha’.
O presente documento constitui a primeira fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), o Relatório de Factores Críticos para a Decisão (FCD) da AAE da proposta de Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Oleiros. Segundo a alínea a) do n.º 1 do art. 3ª do D.L. n.º 232/2007 de 15 de Junho, que transpôs para a ordem jurídica interna as Directivas nºs 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, estão sujeitos a avaliação ambiental “os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos...”, onde se incluem os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) e respectivas revisões. É neste âmbito que se realiza a presente AAE. Para a sua elaboração foram seguidas as orientações do “Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações Metodológicas” da Agência Portuguesa do Ambiente (2007). De acordo com o referido Guia, no Relatório Ambiental serão identificadas as potencialidades do PMOT que possam contribuir para uma melhoria das condições ambientais e de sustentabilidade e pela identificação e prevenção de acções que possam causar impactes negativos. Esta primeira fase corresponde ao estabelecimento dos Factores Críticos para a Decisão e definição do contexto para Avaliação Ambiental Estratégica. O Relatório de Factores Críticos para a Decisão destina-se a estabelecer o alcance e o nível de pormenorização da informação a incluir no relatório final. Não é objectivo deste relatório realizar qualquer avaliação ambiental, mas sim identificar os factores críticos para a decisão, que permitirão avaliar, numa segunda fase, a sustentabilidade da proposta de Revisão do PDM de Oleiros.
Este documento constitui a primeira fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), o Relatório de Factores Críticos para a Decisão (FCD) da AAE da proposta de Alteração do Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial de Açude Pinto. Segundo a alínea a) do n.º 1 do art. 3ª do D.L. n.º 232/2007 de 15 de Junho, que transpôs para a ordem jurídica interna as Directivas nºs 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, estão sujeitos a avaliação ambiental “os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos...”, onde se incluem os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) e respectivas revisões. É neste âmbito que se realiza a presente AAE. Para a sua elaboração foram seguidas as orientações do “Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações Metodológicas” da Agência Portuguesa do Ambiente (2007). De acordo com o referido Guia, no Relatório Ambiental serão identificadas as potencialidades do PMOT que possam contribuir para uma melhoria das condições ambientais e de sustentabilidade e pela identificação e prevenção de acções que possam causar impactes negativos. Esta primeira fase corresponde ao estabelecimento dos Factores Críticos para a Decisão e definição do contexto para Avaliação Ambiental Estratégica. O Relatório de Factores Críticos para a Decisão destina-se a estabelecer o alcance e o nível de pormenorização da informação a incluir no relatório final. Não é objectivo deste relatório realizar qualquer avaliação ambiental, mas sim identificar os factores críticos para a decisão, que permitirão avaliar, numa segunda fase, a sustentabilidade da proposta de Alteração do PP da Zona Industrial de Açude Pinto.
Este documento constitui a primeira fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), o Relatório de Factores Críticos para a Decisão (FCD) da AAE da proposta de Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Vila de Rei. Segundo a alínea a) do n.º 1 do art.º 3.ª do D.L. n.º 232/2007 de 15 de Junho, que transpôs para a ordem jurídica interna as Directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, estão sujeitos a avaliação ambiental “os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos...”, onde se incluem os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) e respectivas revisões. É neste âmbito que se realiza a presente AAE. Para a sua elaboração foram seguidas as orientações do “Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações Metodológicas” da Agência Portuguesa do Ambiente (2007). De acordo com o referido Guia, no Relatório Ambiental serão identificadas as potencialidades do PMOT que possam contribuir para uma melhoria das condições ambientais e de sustentabilidade e pela identificação e prevenção de acções que possam causar impactes negativos. Esta primeira fase corresponde ao estabelecimento dos Factores Críticos para a Decisão e definição do contexto para Avaliação Ambiental Estratégica. O Relatório de Factores Críticos para a Decisão destina-se a estabelecer o alcance e o nível de pormenorização da informação a incluir no relatório final. Não é objectivo deste relatório realizar qualquer avaliação ambiental, mas sim identificar os factores críticos para a decisão, que permitirão avaliar, numa segunda fase, a sustentabilidade da proposta de Revisão do PDM de Vila de Rei.
Este artigo nos remete às reflexões sobre a linha imaginária
que possa haver entre a arte e loucura. Com base em que critérios,
podemos afirmar que as psicoses se manifestam em ar��stas plás��cos? Ou
até que ponto as obras de um psicótico, tais como Arthur Bispo do
Rosário, podem ser consideradas obras de arte. Neste contexto, é
oportuno questionar: será que a loucura manifesta a arte ou a arte
manifesta a loucura? Arthur Bispo do Rosário viveu a maior parte de sua
vida na Colônia Juliano Moreira, do Rio de janeiro. Foi submetida às
práticas médicas de tratamento padrão, para a época, praticada em
pacientes internados. Não obstante, como um cavaleiro solitário,
conforme descreve Luciana Hidalgo, criou seu mundo onírico e obedecia
às vozes que escutava dentro de si. A partir daí, ia desfiando os tecidos
dos uniformes e recolhendo objetos descartados ou em desuso,
metamorfoseando-os em obras, hoje consideradas obras de arte, nacional
e internacionalmente
A sociedade encontra-se num processo acelerado de transformações e um dos aspetos demográficos é a existência de uma população envelhecida pouco participativa e estereotipada por outras gerações. O enfoque intergeracional tem na realidade de muitos países uma forma díspar de concretização, com resultados pouco difundidos e no caso português com grande escassez de estudos. O papeld a educação intergeracional pretende que os educandos se convertem em responsáveis da sua própria aprendizagem, que sejam partícipes nas atividades de intercâmbio de experiências e pontos de vista de umas gerações com as outras, de modo a conseguir-se um desenvolviemnto pessoal, grupal e familiar. trataremos de abordar o enfoque intergeracional desde a educação e tendo como desafio o papel da animação sociocultural e/ou socioeducativa no momento de gerar relações intergeracionais, entre jovens, adultos e adultos maiores. De facto, o objetivo do estudo é indagar sobre o impacto dos programas intergeracionais e, em especial da educação intergeracional, nos participantes e agentes implicados na convivência e relação (inter)geracional. Tudo isto é fundamental para podermos responder aos desafios da sociedade atual, que deve promover relações e a solidariedade entre gerações. Iremos abordar 4 pontos na nossa argumentação: como promover e avançar para a participação social das pessoas adultas maiores através dos Programas (Educação) Intergeracional; analiaremos as boas práticas de intervenção que têm sido feitas no desenvolvimento gerontológico (programas d eintervenção dirigidos aos adultos maiores); analsiar o enfoque da educação intergeracional como um novo desafio formativo na sociedade atual; impulsar e implementar os Programas Inetrgeracionais para todas as idades/gerações tendo na animação sociocultural um aliado fundamental.
Trata-se de um estudo histórico-descritivo que aborda a educação especial às crianças surdas-mudas
no séc. XIX e começos do XX, em Portugal.
O seu marco conceptual assenta em fontes documentais e arquivísticas e de outras fontes secundárias no âmbito da História da Educação (Especial) sobre surdos. A nossa argumentação historiográfica, de teor hermenêutico (analítica) incide na educação, ações de ensino (métodos) aos surdos e nas iniciativas institucionais para essas pessoas com deficiência sensorial, ditas ‘anormais’ na época. O debate entre as técnicas de ensino aos surdos (oralismo, gestualismo), no âmbito de uma pedagogia diferenciada, acompanhou as tendências europeias divulgadas (métodos: francês e alemão).
Em oitocentos, criaram-se classes/aulas e instituições, com o apoio dos municípios e misericórdias (Lisboa, Porto) e de filantropos ou beneméritos, destacando-se o papel da Casa Pia de Lisboa, instituição pioneira na educação dos surdos-mudos. Os nossos objetivos são os seguintes: compreender a existência de uma
pedagogia nacional para os surdos (séc. XIX e parte do XX) e respetivas iniciativas educativas; analisar
os métodos ou técnicas de ensino (oralista, gestual) seguidos por alguns pedagogos em instituições;
compreender a organização de estudos do Real Instituto para surdos-mudos da Casa Pia e as principais características de aprendizagem. Este retrospecto histórico sobre educação da surdez intenta configurar práticas, orientações metodológicas e propostas educacionais, algumas diferentes, que desenvolveram muitas capacidades nos surdos, apesar de limitações. Toda esta visão historiográfica feita em 4 pontos do texto permitiu conhecer os caminhos percorridos pela comunidade surda, as suas dificuldades e lutas e as formas de intervenção.
ABSTRACT: Proposed paper is a part of the ongoing PhD research in
design with focus on the research of existing environmental and social
requirements for the sustainable innovation within urban sanita_on,
focused on toilet design. Main questions of the research are aiming the
Portuguese environment, where we are characterizing aspects of water
and sanita_on through the five dimensions - culture, technology,
government, economy, and environment.
In this paper the main objective is to determine systemic characteristics
of the socio-cultural dimension of water and sanitation, which will be later
incorporated in writien final guidelines – directives raised from the
research results which shall serve as operational knowledge for the ones
involved in the implementation of the sustainable toilet innovation. The
paper as well serves as theoretical orientation for the practical
applications of the research.
Na Região Centro de Portugal são produzidos 5 dos 14 queijos com DOP existentes no país. São queijos que utilizam, como matéria-prima, leite cru de cabra e/ou de ovelha. Este trabalho permitiu avaliar a composição físico-química de um total de 68 queijos da Beira Baixa com DOP Tipo Amarelo, Rabaçal com DOP e Serra da Estrela com DOP produzidos entre 2019 e 2021. As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Físico-Química do Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco (CATAA). Verificou-se que as amostras de Queijo Rabaçal apresentam valores mais elevados de proteína, gordura, extrato seco, hidratos de carbono e valor energético (p≤0,05), que as amostras de Queijo da Beira Baixa Tipo Amarelo apresentaram valores mais elevados de cinzas, sódio e sal (p≤0,05) e que as amostras de Queijo Serra da Estrela com DOP apresentaram teores mais elevado de humidade (p≤0,05). A humidade isenta de matéria gorda foi maior nos queijos da Beira Baixa Tipo Amarelo e Serra da Estrela (p≤0,05). No entanto, nestes dois casos, os valores encontrados estão previstos nos respetivos Cadernos de Especificações. Relativamente à matéria gorda no extrato seco, não se encontraram diferenças entre os 3 tipos de queijos (p>0,05). Verificou-se que 100% dos queijos da Beira Baixa Tipo Amarelo, 100% dos queijos Rabaçal e 96% dos queijos Serra da Estrela apresentaram valores de matéria gorda no extrato seco previstos nos respetivos Cadernos de Especificações. Concluiu-se que o tipo de leite utilizado, o processo de fabrico e as condições de armazenamento dos queijos contribuíram para as diferentes características físico-químicas dos queijos com DOP da Região Centro. As boas práticas de produção, onde se inclui a seleção criteriosa da matéria-prima, o cumprimento do período mínimo de cura e o controlo da quantidade de sal utilizado no fabrico dos queijos são fatores determinantes para a obtenção de um produto final com boa qualidade nutricional.
The main objective of this research paper is to trace and enhance the development of British mourning jewelry and rituals through the magnificent historical, cultural, artistic and technological changes of the long nineteenth century. Methodologically, via extensive bib-liographical references, the author examines profoundly the roles of the nineteenth century royal courts and personalities, specifically those of the late Georgian and mid Victorian period and first focuses on the French influ-enced British mourning jewelry. Through an analysis of selected mourning jewelry types he tries to reveal the aesthetic and symbol-ic characteristics on which the later British burial tradition was based on. Subsequently, he focalizes on Queen Victoria’s personality in severely reshaping the ideal of traditional burial practices and thus reestablishing the idea of modern British mourning customs, among which mourning jewelry was of pre-dominant importance, reaching their peak in the 1880s.
Culture has become increasingly central to the rhetoric of territorial development, but it has not always been translated into the renewal of intervention strategies and practices. In this article, it is argued that in Portugal local cultural policies should have a strong territorial or endogenous configuration, aiming at the valorization of local assets and qualification of communities. Given some of the most relevant challenges in the portuguese context of local development, some guiding principles to which a cultural policy needs to respond effectively, as well as the main dimensions that should give them form and content, will be analyzed.
Dissertação apresentada à Escola Superior Agrária de Castelo Branco do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Inovação e Qualidade na Produção Alimentar.
Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Supervisão e Avaliação Escolar.
Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Intervenção Social Escolar – Ramo Crianças e Jovens em risco.
Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Supervisão e Avaliação Escolar.
Processamento e conservaçäo dos alimentos
Ervas infestantes e seu controlo
Contém referências bibliográficas
Contém referências bibliográficas
1 parte para piano, 1 parte para clarinete in B
1 parte para piano, 1 parte para violino